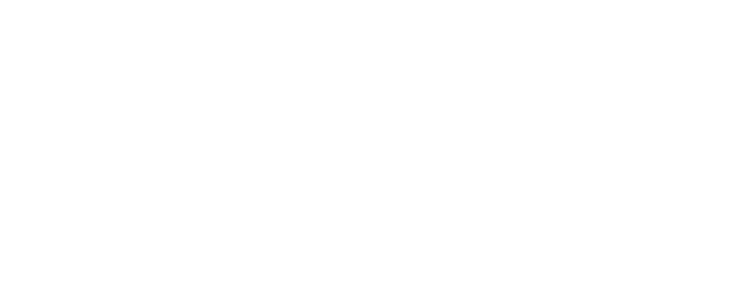Li algures um dia destes, que esta crise provocada pela Covid-19 estava a impor às empresas um salto tecnológico de 10 anos, obrigando-as designadamente para uma “transição digital forçada”.
Não sou capaz de avaliar o tamanho do salto, mas a verdade é que por força das medidas de confinamento, de limitação de circulação e de distanciamento social, impostas pelo “estado de emergência” e sugeridas pelas autoridades de saúde, no sentido de impedir a propagação do “novo coronavírus”, uma boa parte das empresas foram obrigadas a adoptar formas diferentes de relacionamento com os seus trabalhadores, com os seus fornecedores e com os seus clientes para manterem a sua actividade.
Muitos dos trabalhadores deixaram de exercer a sua prestação nas instalações da empresa e passaram a desenvolver as suas obrigações laborais na sua própria habitação, em regime de teletrabalho. E as próprias reuniões com os fornecedores e com os clientes deixaram de ser presenciais e passaram a ser feitas à “distância”. O comércio electrónico ganhou um sem-número de novas adesões. E sejamos claros, tudo isto só foi possível com recurso a soluções digitais.
Sendo que uma boa parte das empresas não estavam preparadas, não tinham meios, e outras nem sequer se achavam capazes. Mas a “lei da sobrevivência” a tudo obrigou.
De um momento para o outro, muitos dos trabalhadores adquiriram novas competências, as relações laborais conheceram novos modelos e a gestão ganhou novas ferramentas ao serviço de uma suposta eficiência.
Acredito que passada esta pandemia, grande parte destas mudanças, que foram suscitadas simplesmente para responder a um tempo de excepção, vieram para ficar. Vão mesmo permanecer.
Mas a questão é, vamos ter melhores empresas, maior produtividade, trabalhadores mais felizes?
É evidente que promover esta reflexão nesta altura, em que a prioridade é salvar vidas, parecerá a muitos um exercício absurdo ou até inútil…
Sinceramente não creio.
Este é um momento especial, único nos últimos 70 anos, que nos convoca para uma verdadeira reflexão, individual e colectiva, em que somos chamados a pensar e a afirmar sobre o que é verdadeiramente importante nas nossas vidas, fazendo uma análise crítica do passado e assumindo o que gostaríamos de ter para o futuro. E nessa reflexão, também devem entrar as empresas, enquanto actores principais da comunidade.
Estamos num momento de maior disponibilidade, em que os valores da solidariedade e da responsabilidade social parecem ter ganho uma nova dimensão, em que toda a nossa energia está direccionada para o combate a um inimigo comum e para o esforço de salvar vidas.
Não é por acaso que nesta altura muitas das nossas empresas redireccionaram a sua produção para alimentar os “soldados” que estão na frente da batalha, produzindo máscaras, viseiras de protecção, gel desinfectante, e até ventiladores. E outras criaram redes solidárias para ajudar os cidadãos e famílias mais afectadas por esta crise, bem como as próprias organizações públicas e privadas, neste esforço conjunto de combate à Covid-19.
Não tenho dúvidas que o “algoritmo” vai continuar a impor a sua lei. O digital encurta distâncias e acelera procedimentos. E mais, não tem fronteiras.
Mas confesso que não gostava de ver o mundo excessivamente assente em modelos matemáticos, em que cada um de nós é apenas um qualquer número, racionalmente portador de um conjunto de direitos e obrigações, com uma determinada capacidade produtiva.
A eficiência e a sustentabilidade das organizações não podem em caso algum ser alcançadas à custa da degradação da sua dimensão humana, sob pena de retirarmos do centro das nossas prioridades o homem e a sua capacidade de realização.
Sempre vi as empresas como algo mais do que simples unidades produtivas, cuja razão de existência assenta exclusivamente em pressupostos de ordem económica, e designadamente na capacidade de remuneração dos seus accionistas. Com efeito, enquanto geradoras de postos de trabalho e riqueza, as empresas são também chamadas a assumir importantes responsabilidades sociais, quer com a realização dos seus próprios trabalhadores e famílias, quer com a sustentabilidade e desenvolvimento dos territórios de que são partes integrantes.
E a responsabilidade das empresas vai ser ainda maior.
Segundo o Fundo Monetário Internacional, estima-se que cada mês de “quarentena” na Europa custa aproximadamente 3% do PIB. Para além de toda a despesa associada ao combate da pandemia, não podemos esquecer que grande parte das empresas tiveram entretanto de reduzir a sua produção e outras foram mesmo obrigadas a interromper a sua actividade.
Pelo que no final desta crise pandémica, vamos ter a economia mundial, e em particular a europeia, fortemente fragilizada. Muitas empresas vão ter muita dificuldade em recomeçar e outras não vão conseguir sequer sobreviver. Por muito que nos custe, o desemprego vai novamente aumentar, vamos seguramente ficar mais pobres.
Dizia alguém, que as guerras costumavam fazer muitas vítimas, mas que também incentivavam as indústrias tecnológicas, criando máquinas e serviços que mais tarde acabavam por ser aprovadas e incorporadas pela comunidade civil.
Esta pandemia que estamos a viver não é propriamente uma guerra, apesar de ter contornos aqui e acolá similares. Foi-nos imposto um novo modelo de relacionamento social e estamos a ser empurrados para o tal salto tecnológico, designadamente a nível digital. Mas como indiciou recentemente Daniel Bessa, ao contrário do que sucede habitualmente com as guerras, no final desta crise epidemiológica, não vamos ter de reconstruir infraestruturas nem unidades produtivas, pois as infraestruturas não foram afetadas e a capacidade produtiva mantém-se intacta. O que sucede é que vai ser necessário repor cadeias de consumo e reconstruir mercados, o que é um processo sempre demorado e mais complexo.
Sendo que em muitos casos, vai ser inclusive necessário recuperar a confiança, designadamente dos mercados globais. Estou-me a recordar por ex. do sector do Turismo, que em Portugal representava mais de 15% do PIB nacional.
O que tudo vai implicar a construção de um novo compromisso dentro do próprio tecido empresarial, e entre este, a sociedade civil e o poder político, assente numa relação de maior cooperação e co-responsabilidade. Só investimento público, desta vez, não vai chegar…
Paulo Ramalho