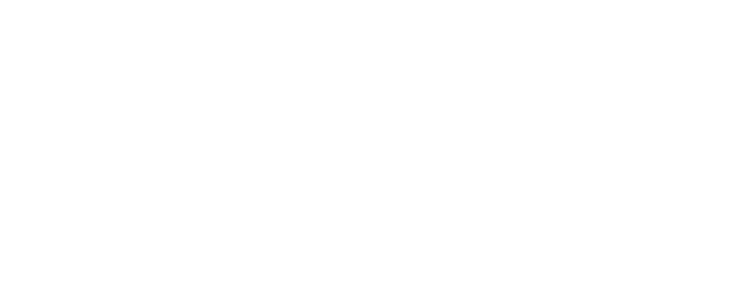Para além da “pandemia”, o tema internacional que mais tem dominado as nossas atenções nos últimos dias, tem sido, sem sombra de dúvida, as eleições para a presidência dos Estados Unidos da América. Diria mesmo que o mundo “viveu em suspense”, aguardando até com alguma ansiedade pelo resultado final, se Donald Trump era reeleito para um novo mandato ou se iria ser substituído na Casa Branca por Joe Biden, o ex vice de Barack Obama.
O que bem se compreende, pois os Estados Unidos são, pela conjugação da sua força económica, política e militar, a maior potência mundial dos tempos actuais, com verdadeira capacidade de influência à escala global.
Por outro lado, existem desafios que, pela sua complexidade e dimensão global, exigem a participação activa de países como os Estados Unidos, como é o caso do combate às alterações climáticas e a própria regulação do comércio internacional.
Recordo ainda que os Estados Unidos desempenham um papel principal na construção da paz e na cooperação internacional, sendo mesmo o maior contribuinte mundial de ajuda pública ao desenvolvimento. E que o dólar americano continua a ser a moeda mais usada nas transacções comerciais internacionais.
Pelas sondagens das últimas semanas, o candidato democrata era claramente favorito, ganharia até com alguma facilidade. Mesmo em Estados onde habitualmente venciam os republicanos.
Trump estava claramente desgastado pela gestão desastrosa da pandemia. Ignorou a comunidade científica e não levou a sério a verdadeira dimensão do problema. Hoje, os Estados Unidos são o país com maior número de vítimas da Covid-19, com mais de 200 mil mortes registadas.
Mas se é verdade que as sondagens acertaram no vencedor, pois Joe Biden acabou mesmo por ganhar as eleições, Donald Trump deu muito mais luta do que se esperava, tendo ficado apenas, em termos absolutos, a pouco mais de 4 milhões de votos do candidato democrata. Isto, nas eleições mais participadas da história dos Estados Unidos, em que votaram mais de 145 milhões de eleitores.
Aliás, o candidato republicano alcançou agora mais 8 milhões de votos do que em 2016, quando venceu Hillary Clinton. O que tudo leva a pensar, não fosse a pandemia, se Trump não teria conseguido mesmo a sua reeleição…
Pessoalmente, sempre tive a convicção que Donald Trump, com pandemia ou sem pandemia, acabaria por perder estas eleições. Apesar de alguns sucessos em áreas económicas, nunca achei a sua governação especialmente competente, levando os Estados Unidos para políticas “isolacionistas” pouco compatíveis com o seu estatuto de maior potência global e nunca lhe reconheci perfil e preparação para o cargo. Confesso que também nunca apreciei o seu discurso algo populista, e muito menos a sua postura e estilo, que por vezes não era “propriamente prestigiante” para a democracia americana. Frequentemente parecia até não ter o sentido de responsabilidade e de Estado, e muito menos o saber, que é exigível a um presidente de um país, ainda mais com o peso e responsabilidades dos Estados Unidos. Demasiado arrogante e egocêntrico, muitas vezes com laivos de autoritarismo, Trump convivia mal com o contraditório, mesmo com colaboradores mais próximos, que amiúde eram afastados só por terem opinião diferente. Recordo os casos de Craig Dean e de John Bolton, ex Conselheiros de Segurança Nacional. E atente-se nas recentes declarações do general James Mattis, ex-Secretário de Estado da Defesa.
Trump foi sempre um presidente de facção, que nunca procurou unir os americanos, de tal forma que a sua preocupação pareceu estar sempre focada apenas no universo dos seus apoiantes e na sua “verdade”. A forma como reagiu aos resultados eleitorais diz quase tudo…
Mas o facto é que cerca de 70 milhões de americanos confiaram mesmo o seu voto ao candidato republicano, o que deve naturalmente merecer todo o respeito. Como alguém recentemente dizia, os defeitos de Donald Trump para muitos, são também as suas qualidades para outros.
A democracia não é uma realidade adquirida, carece de ser alimentada e afirmada todos os dias. Sendo importante saber perder, mas também saber ganhar.
Joe Biden foi eleito o 46º Presidente dos Estados Unidos, com a maior votação de sempre da democracia americana, o que lhe confere uma especial legitimidade. Mas também grandes responsabilidades.
Desde logo, o presidente agora eleito tem a obrigação de promover a conciliação da sociedade americana, fortemente dividida em consequência deste processo eleitoral e combater com sabedoria os radicalismos que se vão vislumbrando aqui e ali. Tolerância, respeito e inclusão serão palavras-chave.
No plano internacional, Joe Biden tem a missão de restituir aos Estados Unidos o estatuto de referência, assente nos princípios da confiança, do respeito e da solidariedade, que de alguma forma foi colocado em crise com a administração Trump. Estou certo que com o novo presidente democrata, os Estados Unidos vão regressar aos Acordos de Paris sobre as Alterações Climáticas e vamos assistir ao fortalecimento das relações com a União Europeia, quer a nível político, quer no domínio comercial. Como também acredito que vamos assistir ao regresso da valorização do multilateralismo. Quer a NATO, quer os diversos organismos das Nações Unidas, bem como outros organismos ligados à cooperação e regulação internacional vão ter novamente nos Estados Unidos um parceiro mais activo e presente.
Joe Biden é um político do centro, moderado, com experiência e mundividência, e com provas dadas na arte da negociação e da concertação, pelo que é bem possível que seja mesmo o líder certo para este momento da vida colectiva dos Estados Unidos. E já agora, um líder mundial que pode vir acrescentar valor aos grandes desafios do nosso mundo global.
Paulo Ramalho