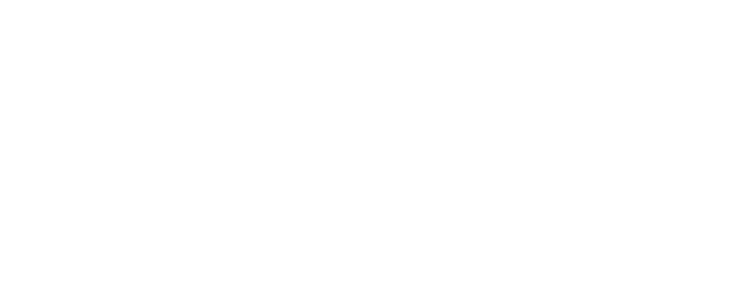Há um século, os governos que se sucediam na República a um ritmo quase anual, enjeitavam as responsabilidades próprias dos seus erros, da sua ineficiência e da sua incapacidade governativa atirando todas as culpas pelo estado em que se encontrava a Nação para os desmandos do período final da Monarquia, que os seus próceres tinham derrubado poucos anos antes.
Os homens que fizeram o 28 de Maio de 1926 – e Salazar também, na sua peugada – habituaram-se a responsabilizar os governos republicanos que os antecederam pela decadência nacional, pela instabilidade política e social e pelos atrasos crónicos que caracterizavam a sociedade portuguesa da época, assim justificando anos a fio o pendor crescentemente autoritário do regime Corporativo imposto ao País.
Apesar do ar de fresca modernidade que fez soprar sobre o território nacional, a democracia que o 25 de Abril trouxe de regresso a Portugal afinou desde o primeiro dia pelo mesmo diapasão: tudo o que de mau acontecia em Portugal e aos portugueses depois da revolução dos cravos não era culpa dos novos governantes e dos novos partidos de onde eles emergiam, mas sim e apenas da longa noite fascista, que tinha ensombrado o céu português durante quatro décadas.
Numa altura em que, outros quarenta anos volvidos, Portugal continua a debater-se com os mesmos problemas que tanto o afligiam na centúria anterior, já se torna virtualmente inaceitável – e até imoral – invocar a má herança de Salazar e de Caetano para justificar os erros e os problemas constantes que cometem ou com que se deparam os governantes portugueses: as culpas desses infortúnios nunca foram assumidas como próprias pelos governos de cada momento, antes são imputadas, na melhor das hipóteses, ao governo anterior – um governo que, naturalmente, tinha outra coloração partidária.
Parece que culpar o passado distante – ou, no mínimo, os seus antecessores mais próximos – está profundamente inscrito na matriz genética dos governantes portugueses. Talvez por isso, e de tão estafado ser o argumento, se possa aceitar que os portugueses – de quem o romano Júlio César disse sabiamente, há mais de mil anos, que há nos confins da Ibéria um povo que nem se governa nem se deixa governar – já lhe não atribuam uma importância de maior.
No entanto, se nos dermos ao trabalho de olhar bem e de outra perspetiva para o que se passa em Portugal neste ano da graça de 2017, talvez valha a pena recordar o que, num contexto historicamente parecido, Eça de Queiroz escreveu há mais de um século no jornal “Distrito de Évora” a respeito desse povo e sobre os seus governantes: o que verdadeiramente nos mata, o que torna esta conjuntura inquietadora, cheia de angústia, estrelada de luzes negras, quase lutuosa, é a desconfiança. O povo, simples e bom, não confia nos homens que hoje tão espetaculosamente estão meneando a púrpura de ministros: os ministros não confiam no parlamento, apesar de o trazerem amaciado, acalentado com todas as doces cantigas de empregos, rendosas conezias, pingues sinecuras; os eleitores não confiam nos seus mandatários, porque lhes bradam em vão: “sede honrados”, e vêm-nos, apesar disso, adormecidos no seio ministerial; os homens da oposição não confiam uns nos outros e vão para o ataque, deitando uns aos outros, combatentes amigos, um turvo olhar de ameaça. Esta desconfiança perpétua leva à confusão e à indiferença (…). Grandes torneios de palavras, discussões aparatosas e sonoras; o país, vendo os mesmos homens pisotearem o solo político, os mesmos ameaços de fisco, a mesma gradativa decadência. A política, sem atos, sem factos, sem resultados, é estéril e ameaçadora.
Parecendo que é nosso contemporâneo, Eça foi um pouco mais longe ao concluir, em “Uma Campanha Alegre”, que a única crítica [a esta situação] é a gargalhada. Nós bem o sabemos: a gargalhada nem é um raciocínio, nem um sentimento: não cria nada, destrói tudo, não responde por coisa alguma.
Apesar de ter produzido estas tão fortes catilinárias, é óbvio que Eça não teve a oportunidade de assistir a um passa-culpas tão comum e inverosímil como é o dos nossos dias: é que aos nossos atuais governantes já não basta – como referi no início deste escrito – lançar o ónus dos seus erros, da sua ineficiência, da sua ineficácia, da sua inação ou da sua incompetência sobre os ombros dos governantes que os antecederam.
Com efeito, apercebendo-se de que esse argumento já está esgotado e que já não colhe junto do povo que o não elegeu para as funções que desde há quase dois anos exerce com tanta pesporrência, o primeiro dos nossos ministros culpa agora, com o ar mais cândido deste mundo, as empresas privadas com quem negociou contratos, da má qualidade dos mesmos e dos serviços que lhe estão associados; humilha os bombeiros impedindo os seus comandantes de falar em público sobre a nobre missão que exercem; disserta sobre o assalto aos paióis de Tancos com a ligeireza de quem conhece a vida na caserna; mente sobre o pedido de demissão de membros do governo; e, por último mas não por fim, endivida alegremente e cada vez mais o país, na esteira dos seus predecessores partidários, sabendo que outros serão chamados a refazer e a pagar as contas. E nega a austeridade que preenche todos os escaninhos dos seus esplendidos Orçamentos de Estado com a leviandade de quem julga que todos os que o escutam, vêm ou leem são pobres, toscos ou analfabetos.
A única entidade que, por enquanto, o primeiro-ministro ainda não culpa por tudo o que de menos bom acontece em Portugal sob a sua gestão – e chamo aqui à colação as famosas palavras de Júlio César que já citei – parece ser o povo português. E assim talvez continue a ser até que os portugueses lhe lembrem, na hora do voto, que as coisas boas de que ele tanto se ufana e galhardamente reclama como suas, mais não são do que filhas diretas e coerentes da ação governativa dos homens que o antecederam, cujos frutos maduros lhe deixaram em herança e que, por terem deixado essa herança são definitivamente culpados.
Joaquim de Matos Pinheiro