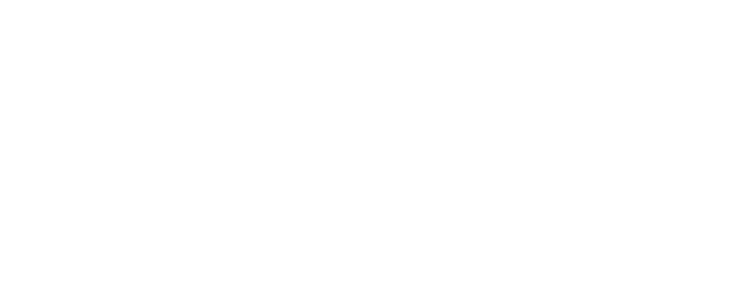Com as eleições autárquicas de 2013, bateram-se novos records: a abstenção que em 2009 tinha sido de 41%, foi agora de 47,4%; os votos brancos e nulos, que no seu conjunto, em 2009, se ficaram pelos 2,95%, atingiram agora os 6,82%; e os movimentos independentes que em 2009 já haviam conquistado 7 Câmaras Municipais, conquistaram agora 13 presidências de Câmara.
É evidente que há quem olhe para estes resultados de forma simplista, apenas no sentido de quem ganhou mais ou de quem perdeu. Mas para nós, que continuamos a acreditar que a participação activa na escolha dos nossos representantes, daqueles que queremos para gerir os destinos da nossa comunidade, é um factor de legitimação da própria “democracia” e que os partidos políticos continuam a ser pilares essenciais do nosso sistema politico, parece-nos que há uma reflexão mais profunda a fazer e questões que merecem que se procurem respostas. Tanto mais que estamos a falar de eleições locais, em que o grau de proximidade entre eleitores e eleitos é muito elevado e numa altura em que existe um grande consenso sobre os benefícios que advêm da descentralização política e administrativa para o desenvolvimento dos territórios.
Com efeito, parece-nos fazer sentido perguntar a propósito destas eleições, porque é que dos 9 497 037 cidadãos inscritos nos cadernos eleitorais, apenas 4 996 074 sentiu necessidade (ou motivação…) de sair do conforto do seu lar para exercer o seu direito de voto? Porque é que desse universo de votantes, cerca de 340 mil eleitores não conseguiu encontrar no boletim de voto qualquer evidência de projecto político que correspondesse minimamente às suas vontades, optando por votar em branco ou inutilizar mesmo o boletim de voto com um qualquer sarrabisco ou escrito? E porque é que, competindo com os diversos partidos políticos, o número de candidaturas independentes vencedoras aumentou, tendo inclusive conquistado a presidência de Câmaras importantes, como Oeiras, Matosinhos e Porto, e ficado a escassos votos de vencer a presidência da Câmara Municipal de Sintra (a segunda com maior número de eleitores do país)?
São perguntas simples é certo, mas cujas respostas urge encontrar para se perceber o verdadeiro estado da nossa “democracia” e para onde caminha a mesma. É que por este andar, daqui a quatro anos, poderemos estar a bater novos records…
Sendo que se é à classe política, e designadamente aos responsáveis dos aparelhos partidários, a quem compete, em primeira instância, promover a necessária discussão, ninguém se deve alhear da mesma e de prestar o seu contributo. Pelo menos, todos aqueles que continuam a acreditar nas virtudes da democracia e que esta, enquanto sistema político é, naturalmente, uma realidade dinâmica, em permanente construção e aperfeiçoamento.
Há claramente sinais de uma crise, diríamos mesmo de um distanciamento, na relação de confiança que era suposto existir entre a sociedade civil e a classe política. Os partidos políticos que eram vistos como verdadeiras estruturas de debate de ideias e produção de soluções para os problemas das pessoas, perderam alguma dessa evidência e são hoje vistos por muitos, como realidades fechadas em torno dos seus próprios interesses corporativos ou meros instrumentos de poder de alguns, inclusive incapazes de oferecerem os seus melhores quadros para a promoção e gestão dos superiores interesses do colectivo. De tal forma, que uma boa parte da sociedade civil é quase que indiferente aos partidos e à classe política, ou pelo menos, pouco crente relativamente à capacidade dos partidos e dos políticos contribuírem para a sua “felicidade”.
E se é verdade que normalmente quem cala consente, em política…, o silêncio frequentemente quer dizer algo mais.
Poder-se-ia dizer por outro lado, que a democracia representativa não se esgota nos partidos, e que o aparecimento crescente de candidaturas independentes nas eleições autárquicas era sinónimo de maturidade e regeneração da nossa democracia, o que necessariamente teria de ser entendido como muito positivo. Mas a verdade é que uma boa parte das candidaturas independentes, na realidade não constituem efectivos movimentos de cidadãos independentes, fora da esfera partidária, pois emergem de vontades inicialmente rejeitadas pelos próprios aparelhos partidários. Sendo todavia surpreendente (ou não…), que em alguns dos casos, o povo acabou mesmo por escolher e eleger aqueles que haviam sido rejeitados pelos seus próprios partidos…
Partindo do pressuposto que em democracia o povo tem quase sempre razão, é importante que quem tem responsabilidades políticas não meta a cabeça debaixo da areia…e saiba pelo menos, ler os sinais.
Por: Paulo Ramalho – Conselheiro Nacional do PSD